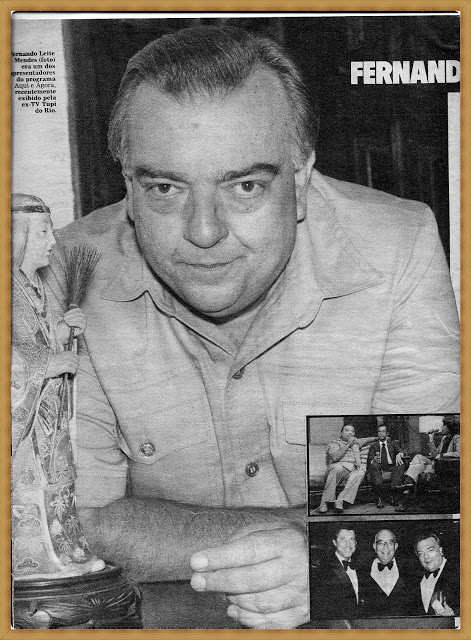O Anel do Nibelungo é um conjunto de quatro óperas do compositor alemão Richard Wagner – uma tetralogia, como se diz – que foi composto para ser encenado em quatro noites seguidas. Foi escrito entre 1848 e 1874 e estreou integralmente em 1876, embora algumas das óperas já tivessem estreado isoladamente antes. A estreia foi no teatro de Bayreuth, construído pelo próprio Wagner, que existe até hoje. Para conseguir ingresso para a encenação do ciclo você tem que ficar numa fila de espera por anos, ouvi dizer. Assim como Charles Chaplin dirigia, produzia, compunha a música, fazia o roteiro e era dono do estúdio de seus próprios filmes geniais, Wagner compunha a música, escrevia a letra (que em linguagem de ópera se chama libretto – aliás altamente poética num belíssimo e difícil alemão), produzia e dirigia a montagem e era dono do próprio teatro. Se Wagner era antissemita, e a apropriação de sua música pelos nazistas é algo que preciso aprofundar e por isso não abordarei aqui.
A ópera de Wagner rompe com a ópera tradicional organizada em árias, duetos, coros, etc., e onde a orquestra apenas acompanha o canto. Aqui você tem um todo que vai fluindo organicamente, e a orquestra tem a mesma importância das vozes. Aliás, Wagner não só expandiu a orquestra, mas deu uma nova ênfase à seção dos metais, chegando a encomendar instrumentos novos, saídos da sua cabeça, para preencher lacunas sonoras que ele percebeu.
O Anel do Nibelungo bebe das fontes das mitologias germânica e nórdica, valendo-se de elementos como o anel que concede poder, o elmo que proporciona a invisibilidade e a possibilidade de mudar de forma, o dragão, os gigantes, a morada dos deuses, a decadência dos deuses como uma metáfora da decadência humana, o amor proibido, incestuoso, os deuses da mitologia nórdica, tudo isto e ainda mais a gente vê no Anel. Ah, e tem a espada mágica cravada na pedra como na lenda do Rei Artur. A minha geração viu isto no desenho da Disney A Espada Era Lei, que mostra outro elemento da ópera de Wagner: Merlin e Madame Min num duelo em que vão mudando de forma, como no duelo entre Wotan e o Nibelungo pela posse do anel.
O Anel do Nibelungo tem algo a ver com O Senhor dos Anéis? Embora Tolkien, dentre suas muitas fontes, também utilize a mitologia nórdica e embora em O Ouro do Reino exista uma menção explícita ao “senhor do anel” (des Ringes Herrn), as duas histórias (pelo que vi no resumo da Wikipedia, pois não li o livro do Tolkien) são completamente diferentes.
Um conceito musical importante que Wagner desenvolveu no ciclo do anel é o do leitmotiv, tema ou motivo condutor, que é um tema musical associado a um personagem, um local, um sentimento, um objeto... A ideia de leitmotif teve ampla aplicação no cinema, por exemplo, no Guerra nas Estrelas, temos o tema de Darth Vader, da Força, dos androides, dos asteroides, etc. No YouTube tem vídeos explicitando os leitmotivs, é só pesquisar "Wagner leitmotif" que você acha.
Aqui vou contar a história da primeira das quatro óperas, O Ouro do Reno. Depois farei vídeos/postagens das três óperas seguintes. Portanto, fiquem de olho. A ópera começa com uma música meio etérea, meio espacial, tanto é que existe um vídeo aqui no YouTube que toca esta música com uma filmagem da terra vista do espaço.
Vamos à história. Ela começa no fundo do Rio Reno, onde vivem as filhas do Reno, inocentes e formosas criaturas que guardam um tesouro, o ouro do Reno. Limitam-se a desfrutar a beleza do ouro, sem nenhuma ambição de explorar seu poder. Porque quem forjar um anel com esse ouro ganhará poderes ilimitados. Mas existe uma contrapartida: para ganhar esses poderes, é preciso renunciar ao amor, algo aparentemente impossível a qualquer ser vivo.
Num reino subterrâneo, Nibelheim, vivem os anões Nibelungos. Um deles, Alberich, desce ao leito do Reno e tenta conquistar as Filhas do Reno, mas tudo que recebe são negaças e deboche. As sedutoras criaturas fazem gato e sapato dele. Enfurecido, decide então algo que parecia impossível: renuncia ao amor, e foge levando o ouro roubado. Esta é a primeira cena da ópera.
A segunda cena transcorre no cume de uma montanha, onde vivem os deuses. O líder dos deuses, Wotan (que corresponde a Odin na mitologia nórdica), encomendou aos gigantes Fafner e Fasolt a construção de uma grandiosa morada, o Valhalla. Para tal, prometeu dar-lhes a mão de Freia, deusa do amor e guardiã das maçãs douradas da eterna juventude. Mas sua irmã Fricka, deusa do matrimônio e esposa de Wotan, está indignada com a promessa que o marido fez aos gigantes. Só que que para desfazê-la Wotan tem que oferecer aos gigantes algo em troca, que seja extremamente valioso, senão eles não vão querer abrir mão de Freia. Os gigantes aparecem e cobram o pagamento por seu trabalho.
 |
| Freia, deusa do amor e guardiã das maçãs douradas da eterna juventude. |
Eis que entra em cena o astuto Loge, semideus do fogo, que rodou o mundo em busca de algo que apetecesse aos gigantes e traz a solução: darão aos gigantes o tesouro roubado por Alberich. Mas para isto terão de descer ao reino subterrâneo e surrupiá-lo do Nibelungo.
Na terceira cena, Loge e Wotan descem ao reino dos Nibelungos e constatam que Alberich não só forjou o anel que proporciona poderes absolutos, mas também obrigou o irmão ferreiro, Mime, a forjar um elmo mágico que lhe permite ficar invisível ou mudar de forma, transformando-se no que bem entender. Munido desses poderes Alberich escravizou o seu povo e o obriga a explorar uma mina de ouro e aumentar ainda mais o tesouro que roubou do fundo do Reno. Vai ser difícil para Wotan e Loge arrancar esses tesouros de Alberich mas eles usam um estratagema. Fingem-se de admirados e o induzem a exibir seus poderes, primeiro transformando-se numa enorme cobra, depois num pequenino sapo. Alberich cai na armadilha e, ao se transformar no sapo, é capturado por Wotan e levado para o alto da montanha. Interessante que esse estratagema de induzir um feiticeiro a se transformar num animal indefeso para dominá-lo figura na história do Gato de Botas!
Na quarta e última cena, os gigantes, que levaram Freia como refém, voltam para apanhar seu pagamento. Wotan pretende entregar apenas o ouro, ficando com o anel e o elmo para si. Mas os gigantes exigem que o tesouro seja empilhado de tal maneira que esconda Freia, e para isto o ouro sozinho não basta. No final fica uma pequena fresta que deixa à mostra o olho de Freia, e para tapá-la Wotan terá que abrir mão do anel. Ele reluta, mas a deusa Erda, a mãe primordial detentora de toda sabedoria, o convence a entregar aquela preciosidade. Porque Alberich, enfurecido, lançou sobre o anel uma maldição, e quem o possuir será cumulado de desgraças. A maldição já começa a funcionar quando os gigantes brigam pela divisão do tesouro e Fafner mata o irmão Fasolt. No final da ópera os deuses se mudam para a sua nova morada, o Valhalla, numa cena memorável. Mas as filhas do Reno lamentam o ouro roubado e não devolvido.
 |
| os gigantes brigam pelo anel |
Existe uma tradução em português do libreto do Anel em ebook na Amazon.